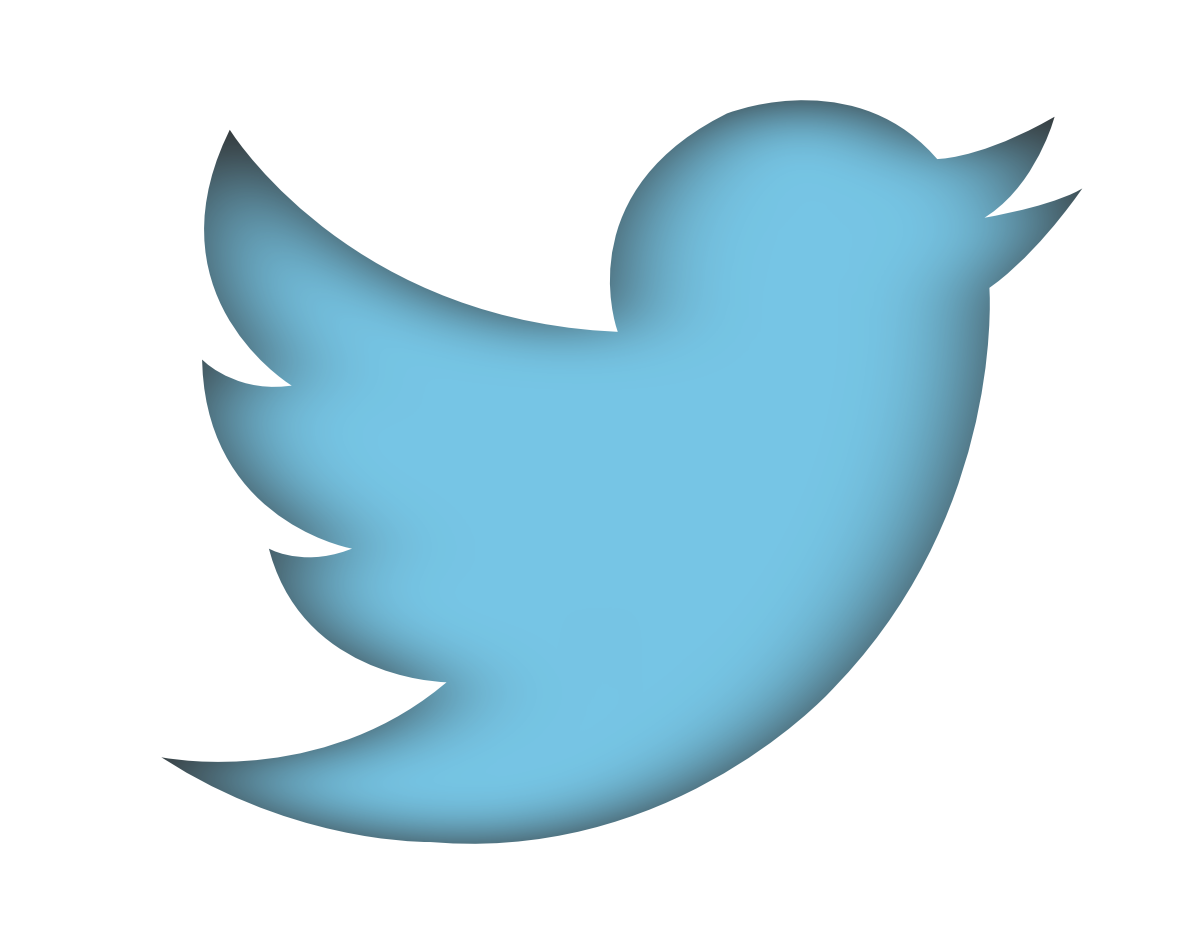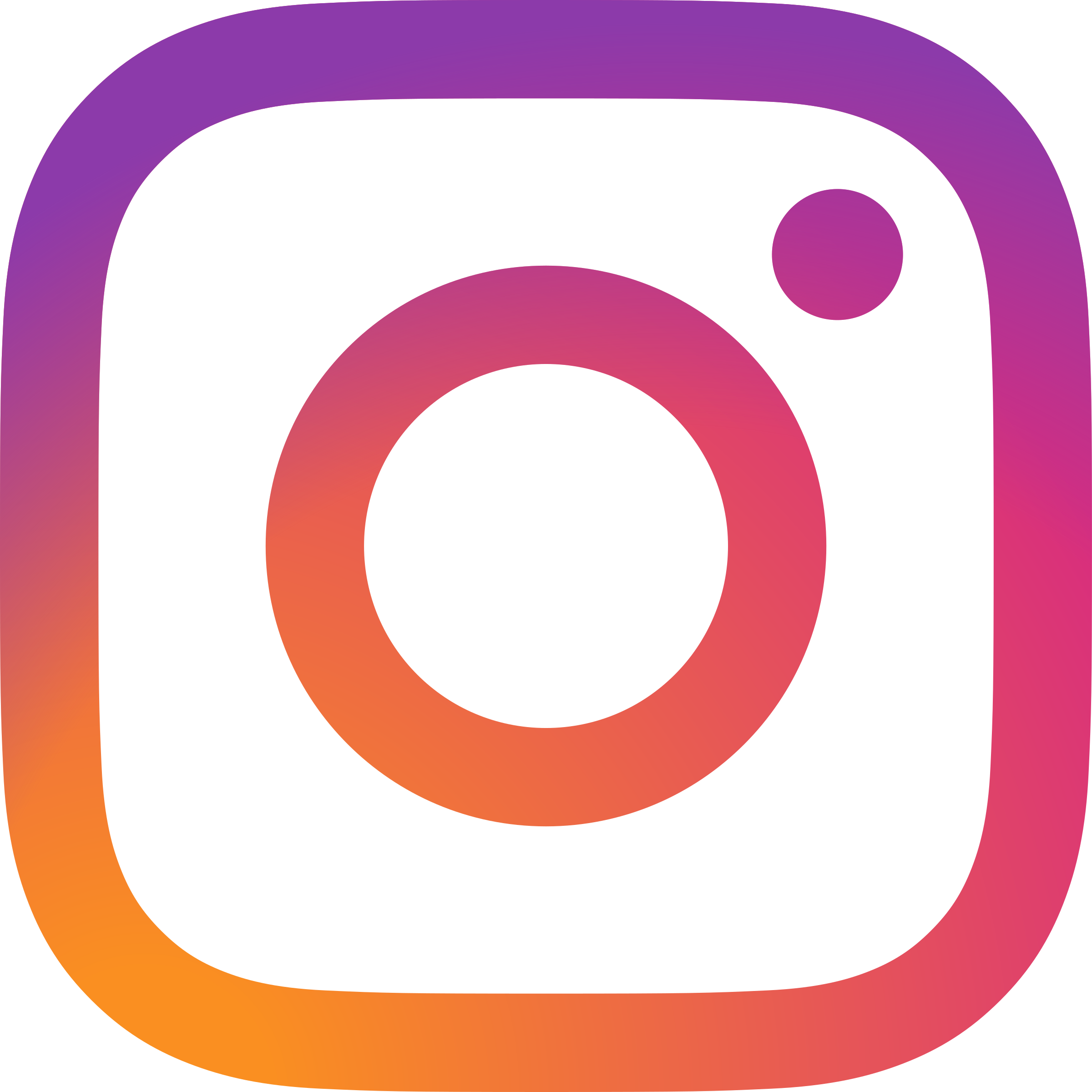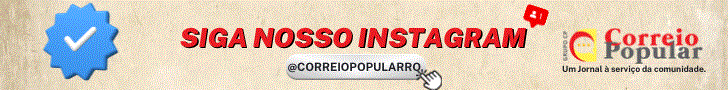DA CARIDADE AO INVESTIMENTO SOCIAL
DA CARIDADE AO INVESTIMENTO SOCIAL CARLOS NICODEMOS* Historicamente, desde o século XVI, a polÃtica do Estado brasileiro para as crianças e os adolescentes, à época chamados de ?menores?, foi marcada pelo significado da piedade, que se traduzia na doação convertendo-se religiosamente na filantropia. Muito desta história se deve ao fato da criança não ter sido, ao longo destes anos, um foco prioritário do Estado em razão da sua incapacidade produtiva somado ao ônus (custo social) que a mesma gerava e gera em termos de investimento. Esta ausência do Estado, do poder público, abriu espaço para a atuação da Igreja que, solidariamente, cuidou desta polÃtica, consolidando assim a compreensão da doação pelo espÃrito solidário da benesse. A partir de 1988, com o advento da Constituição Federal, que articulada com a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças da ONU, e do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, consolidou-se um novo entendimento sobre o papel da criança na sociedade, passando esta a gozar da condição de sujeito de direitos e não mais objeto de tutela da caridade. A mesma Constituição Federal, estabeleceu que a proteção integral para criança e o adolescente, não era mais uma questão de governo. Agora, famÃlia, sociedade e Estado (Artigo 227 da CF88) deverão envidar esforços estratégicos para assegurar à Criança o direito à cidadania. Dentro destas estratégias, encontramos os Conselhos de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que foram criados a partir da Lei 8.069/90, em nÃvel municipal, estadual e nacional, com a finalidade de articular, deliberar e fiscalizar a PolÃtica do Estado (sentido amplo) sobre os direitos infanto-juvenis. Os Conselhos de Direitos, referencial da democracia participativa no Estado brasileiro, considerando que os referidos órgãos são compostos de representantes do governo e da sociedade civil organizada, são dotados de fundos especiais (FIA ? Fundo da Infância e Adolescência) que podem receber recursos do orçamento público, de multas administrativas e de investimentos sociais. Esta última modalidade permite que Pessoas FÃsicas e JurÃdicas possam investir respectivamente, 6% e 1% do Imposto de Renda que será pago ao Governo Federal. Para isso, os Conselhos de Direitos devem regulamentar o FIA através de mecanismos próprios, à luz da legislação vigente. Em muitos estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro (www.cedca.rj.gov.br) já se opera o FIA, atraindo milhões de reais para serem investidos na polÃtica de proteção dos direitos de crianças e adolescentes. No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, segundo dados de 2008, o potencial de doação de Pessoa FÃsica é de R$ 110 milhões e o da Pessoa JurÃdica é de R$ 270 milhões, perfazendo um total de R$ 380 milhões que poderiam ser investidos no FIA. Mas uma elementar está colocada neste cenário. Pode o investidor opinar sobre em que projeto ou programa deve ser investido o recurso que ele destina numa modalidade moderna de participação cidadã para a formulação de uma polÃtica de Estado? Deve! Superamos os séculos de caridade e filantropia do passado, para dar lugar, a partir da Constituição Federal de 1988, a um novo conceito de polÃtica pública participativa. Afinal famÃlia, sociedade e estado devem juntos trabalhar pela causa da proteção integral. Desde 1980, o Brasil vem desenvolvendo um conceito de Responsabilidade Social das Empresas. Este conceito, que surgiu com a provocação do sociólogo Hebert de Souza (?Betinho?), hoje dá lugar a um Segundo Setor (mercado) cada vez mais organizado e ávido em participar de processos sociais, linhas de desenvolvimento de polÃticas que possam promover cidadania, especialmente nas suas áreas de influência. Muito lógico, visto que este retorno para sua base geopolÃtica desencadeia um processo de retroalimentação social e econômica que retira a condição de meras exploradoras, assumindo assim um papel diferenciado de investidores sociais. Certamente, os Conselhos de Direitos, especialmente nos municÃpios, deverão, dentro da legalidade e da sua autonomia funcional, assumir este diálogo com o segundo setor. O Plano de Ação do Conselho de Direitos da Criança, instrumento fundamental para este processo, deve ser reflexo das demandas sociais deste grupo. Mais do que isso, deve ser produto de um contÃnuo diálogo entre todos os atores polÃticos e sociais, permitindo assim sairmos finalmente da lógica da doação para o investimento. Após 19 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, está colocado este desafio, que transcende o debate jurÃdico para ecoar no campo polÃtico, deixando a seguinte reflexão: a polÃtica de proteção dos direitos das crianças é responsabilidade de todos, inclusive do mercado. * CARLOS NICODEMOS é Presidente do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro, Membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ, Advogado e Coordenador da Organização de Direitos Humanos ? Projeto Legal. ...
Compartilhe com seus amigos:
www.correiopopular.com.br
é uma publicação pertencente à EMPRESA JORNALÃSTICA CP DE RONDÃNIA LTDA
2016 - Todos os direitos reservados
Contatos: redacao@correiopopular.net - comercial@correiopopular.com.br - cpredacao@uol.com.br
Telefone: 69-3421-6853.
www.correiopopular.com.br
é uma publicação pertencente à EMPRESA JORNALÃSTICA CP DE RONDÃNIA LTDA
2016 - Todos os direitos reservados
Contatos: redacao@correiopopular.net - comercial@correiopopular.com.br - cpredacao@uol.com.br
Telefone: 69-3421-6853.